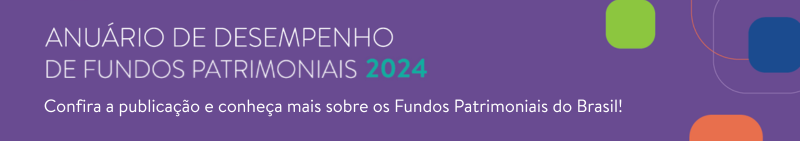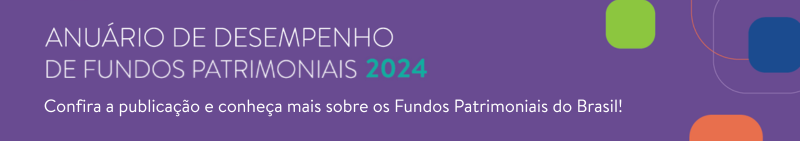por Diego Martins, sócio da Pragma Gestão de Patrimônio
Desde as primeiras discussões sobre a criação deste Anuário, ainda em 2021, já havia a expectativa de que o tempo seria seu melhor companheiro. Não só pelo aumento natural das séries de dados observados, mas também por se tornar um testemunho da evolução do ecossistema de fundos patrimoniais brasileiros. Quatro anos depois, os resultados apresentados nesta publicação falam por si só: houve um sensível incremento de 40 para 92 fundos reportados, cobrindo um patrimônio total de R$ 139 bilhões (ante R$ 12 bilhões em 2021) e, o mais importante, foram mapeados R$ 2,8 bilhões em recursos gerados pelos fundos patrimoniais, contra R$ 338 milhões no anuário de 2021.
No entanto, no que tange à alocação de ativos, nota-se pouca evolução desde o início da série histórica em 2019. Ainda que na divisão por faixas de patrimônio se observe alguma variabilidade (o que pode ser efeito do recorte de amostras menores, que admitem a entrada de novos pontos no tempo), no agregado, os portfólios têm se mantido em torno de 80% alocados em renda fixa brasileira (entre 20% e 30% alocados em ativos pós-fixados). Portanto, trata-se ainda de carteiras muito pouco diversificadas.
Para ser justo com os dados, é possível argumentar que houve alguma variabilidade de alocação ao longo da série – notadamente em 2020 e 2021, com um incremento na alocação em renda variável doméstica. Entretanto, tratou-se de um movimento com vida curta e de característica cíclica, dado o ambiente de juros muito baixos e a boa performance da bolsa. Logo, um comportamento antagônico ao que se esperaria para um endowment que, dado seu horizonte alongado, tem maior tolerância estrutural a riscos e capacidade de ser contracíclico.
É compreensível que fundos patrimoniais menores ou nascentes tenham uma alocação menos sofisticada e concentrada em ativos de renda fixa, basicamente por questões operacionais ou de custos. Todavia, a alocação preponderante em renda fixa é observada em todas as faixas de patrimônio – mesmo na faixa mais alta (acima de R$ 500 milhões), sabidamente influenciada por organizações que detêm mais ações, devido a questões históricas de dotação inicial.
O nível elevado de juros nominais e reais pagos por títulos públicos brasileiros também é frequentemente evocado como justificativa para a alocação massiva em renda fixa local. De fato, em um ambiente de juros reais positivos, iguais ou acima da meta de retorno de muitos fundos patrimoniais, é de se esperar uma alocação estrutural em renda fixa mais elevada do que a observada em endowments internacionais. Contudo, não se pode perder de vista que não há “almoço grátis” no mercado financeiro, e que juros altos andam de mãos dadas com riscos elevados. Aliás, se há um almoço grátis nos mercados, como preconizava Harry Markowitz, ele é a diversificação de ativos, e não a concentração quase absoluta em um único fator de risco.
Ao mesmo tempo, ter alocações elevadas em renda fixa é uma posição confortável para os gestores de fundos patrimoniais. Afinal, ela maximiza as chances de se atingir metas de retorno real em um horizonte mais curto, com menos risco de mercado. Mas não deixa de se expor a vários outros riscos, como o risco de reinvestimento dos papéis que vencem no tempo e, por que não, o risco de repactuação de dívidas ou default. Mesmo os ativos pós-fixados carregam a incerteza de gerar ganhos reais (como foi o caso recente no período de 2020 a 2022, quando o CDI auferiu retornos reais negativos). Todos esses riscos se tornam mais evidentes em janelas mais dilatadas de tempo – justamente as que são relevantes para o horizonte perpétuo de investimento de um endowment.
Esse conflito não é novo, tendo já sido abordado por Charles Ellis em um artigo intitulado “O Paradoxo”[1], na década de 80. Nele, Ellis aponta para um paradoxo existente em investidores com horizonte de longo prazo, mas que tendem a otimizar objetivos de curto prazo. Ele chega à conclusão de que, no caso de investidores institucionais, tem-se uma situação particular de conflito de agência, na qual não há um principal, somente agentes. Isso porque pools de capital filantrópico geralmente não possuem um “dono” explícito, apenas agentes que compõem seus órgãos de governança e que administram os recursos em nome da organização.
Além disso, os membros desses órgãos de governança são geralmente voluntários que, naturalmente, buscam minimizar o seu risco reputacional individual. Soma-se ainda o fato de que, muitas vezes, seus mandatos são curtos (de dois ou três anos) quando comparados ao horizonte de investimento alongado de um fundo patrimonial.
Assim, segundo Ellis, a ausência de um “dono”, a minimização de riscos reputacionais, e a falta de alinhamento entre os horizontes de mandatos e decisões de investimento explicam o curto-prazismo na gestão de recursos institucionais. Nessas condições, os agentes não otimizam os objetivos de longo prazo; eles tendem a assumir uma postura mais defensiva, buscando retornos satisfatórios enquanto evitam assumir posições menos convencionais.
Dado esse diagnóstico, algumas medidas podem ser tomadas pelas organizações filantrópicas para mitigar esses efeitos. A primeira delas é ter uma política de investimentos robusta, por se tratar do documento que norteará o comitê de investimentos na sua tomada de decisões. Logo, ela deve ser explicitamente orientada para o longo prazo em seus objetivos, possibilidades de investimento e mensuração de sucesso. Também deve contemplar claramente os riscos que o fundo patrimonial não pode suportar, assim como deve dar clareza aos riscos que o portfólio pode assumir, evidenciando o custo de oportunidade que existe quando um risco tolerável não é incorrido.
Outra medida relevante é a definição de uma regra de resgates adequada às necessidades da causa apoiada. Uma regra mal calibrada pode propagar a volatilidade de curto prazo dos investimentos (altamente tolerável por portfólios de longo prazo) para o orçamento anual da organização, gerando uma pressão interna por alocações mais conservadoras. Apesar de ser um problema relativamente novo para a realidade brasileira, endowments norte-americanos já endereçaram esse dilema há quase 50 anos, com a adoção de regras de resgate suavizadas (como a conhecida “regra de Yale”).
Uma última iniciativa considerável consiste em promover maior alinhamento entre o horizonte de investimento do fundo patrimonial e os mandatos de seus decisores. Frequentemente, diretores de investimento de endowments de renome atribuem parte de seu êxito à existência de comitês de investimento longevos, estáveis e coesos. Para tanto, uma medida prática possível é a de alongar o mandato dos membros do comitê ou permitir reconduções indefinidas para a posição. Indo além, a qualidade da composição do comitê é crucial para o seu sucesso. Seus membros devem não só ter competências complementares, mas também capacidade de tomar riscos toleráveis e postura contracíclica.
Por fim, é importante reforçar que os membros da governança de um fundo patrimonial têm um dever fiduciário para com ele. E tal dever não se limita tão somente a não correr riscos intoleráveis pelo fundo. Ele também se estende à obrigação de fazer a melhor aplicação possível do seu capital, buscando o melhor retorno de longo prazo através do uso dos fatores de risco aceitáveis. Afinal, se por um lado o comitê de investimentos precisa evitar perdas permanentes de capital, por outro, também deve estar atento ao custo de oportunidade de não assumir riscos que seriam toleráveis.
[1] ELLIS, Charles D. The Paradox. In: ELLIS, Charles D.; VERTIN, James R. (Ed.). Classics – An Investor’s Anthology. Homewood, Ill: Business One Irwin, 1989. p. 681–688.